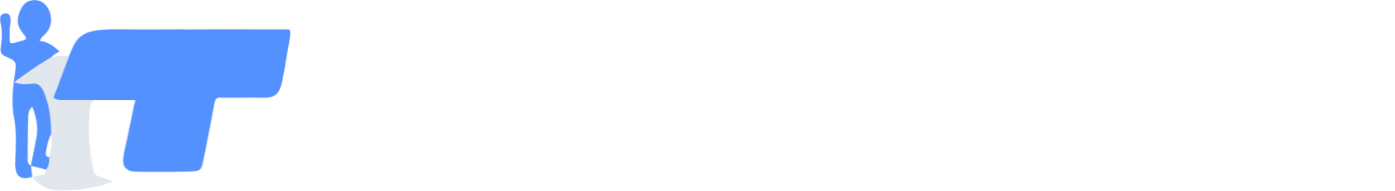Com as mobilizações estudantis crescendo dia após dia, as universidades tornaram-se um reflexo da divisão cada vez mais acentuada da sociedade americana sobre o apoio do governo dos EUA a um aliado histórico: Israel.
“Trouxe meus filhos para inspirá-los”, diz Shaan Sethi enquanto levanta as crianças, de 7 e 9 anos, para que possam enxergar o que está além do bloqueio da segurança.
Estamos na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA, na sigla em ingês), uma das mais prestigiosas instituições de ensino superior dos Estados Unidos.
Do outro lado da cerca dupla, vigiada por agentes e “decorada” com faixas que dizem “Palestina Livre” ou “Parem o Genocídio”, cerca de duzentos estudantes acampam desde quinta-feira (25/4) para exigir que a instituição se dissocie de empresas e indivíduos que “estão se beneficiando” da operação militar israelense em Gaza.
A incursão militar começou como uma retaliação ao ataque de 7 de outubro perpetrado por militantes do Hamas, que deixou 1.200 mortos e 240 reféns, segundo o governo israelense.
Desde então, a operação militar já custou a vida de mais de 34 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.
Segundo as Nações Unidas, existem cerca de 2 milhões de civis à beira da fome.
“Esta sempre foi uma área aberta, onde os alunos descansavam na grama ou se reuniam entre as aulas”, diz Sethi, que se formou em Economia Internacional neste mesmo campus anos atrás.
Ele conta que nunca tinha visto esta área cercada e rodeada por seguranças.
“Então, quis mostrar aos meus filhos, porque é algo inédito mas também para que eles entendam o país está polarizado atualmente”, acrescenta.
Os campi universitários tornaram-se o maior reflexo da tensão que a guerra no Oriente Médio gera nos Estados Unidos e da divisão cada vez mais acentuada da sociedade americana frente ao apoio do governo americano a um aliado histórico: Israel.
Protestos e tensão crescente
Os protestos nas universidades americanas devido à guerra em Gaza não são uma coisa nova.
Eles têm ocorrido, com maior ou menor intensidade, desde o ataque do Hamas e o início da ofensiva israelense no território palestino.
Acompanhados de perto por parlamentares democratas e republicanos no Capitólio, fizeram com que vários responsáveis pelos principais centros universitários dos Estados Unidos comparecessem perante o Congresso.
Em janeiro, as polêmicas decorrentes desse conflito acabaram custando à então reitora de Harvard, Claudine Gay, o seu cargo.
Mas as mobilizações ganharam outra dimensão nas últimas duas semanas, depois que a polícia invadiu a Universidade de Columbia, em Nova York, e prendeu uma centena de estudantes pró-Palestina que estavam acampados no campus.
Os estudantes continuam com os protestos em Columbia, correndo o risco de serem suspensos por não terem cumprido o prazo de remoção do acampamento estabelecido pelas autoridades da universidade — às 14h locais da segunda-feira (13h pelo horário de Brasília).
E não só as manifestações não pararam em Columbia, como se espalharam por universidades de todo o país, de Yale ao Instituto de tecnologia de Massachusetts (MIT), passando por Emory, Emerson, Tufts, Brown, Stanford e a Universidade do Texas em Austin.
A costa oeste não é exceção. A Universidade do Sul da Califórnia (USC), localizada em Los Angeles e um dos mais importantes centros educacionais privados do Estado, anunciou na quinta-feira que cancelaria sua cerimônia de formatura “dados os riscos de segurança representados pelos protestos”.
Mais a noroeste, no campus da UCLA, o dia de maior tensão ocorreu no domingo, quando manifestantes pró-palestinos se depararam com um contraprotesto promovido pelo Conselho Americano-Israelense.
A organização, fundada com a missão de “construir uma comunidade israelense-americana comprometida e unida que fortaleça a identidade israelense e judaica da próxima geração e o vínculo com o Estado de Israel” proclama em suas redes sociais que é “inaceitável que qualquer campus universitário se torne uma plataforma para atividades pró-terroristas e antiamericanas”.
Cercas foram derrubadas, houve confrontos verbais, insultos, algumas escaramuças, uma mulher com ferimentos leves na cabeça.
A polícia do campus chegou por volta das 14h30 e as dezenas de pessoas reunidas foram convidadas a se dispersar.
“A UCLA tem uma longa história como local de protesto pacífico”, afirmou Mary Osako, vice-presidente de Comunicações Estratégicas, num comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da universidade. “Estamos consternados com a violência que eclodiu.”
Nesta segunda-feira, só restou a segurança reforçada, uma calma tensa e o enorme telão e alto-falantes que os organizadores do contraprotesto colocaram na véspera no Dickson Plaza, num pedaço de gramado a poucos metros do acampamento estudantil cercado.
Adornada com faixas exigindo a libertação dos reféns e sublinhando o apoio a Israel, o aparato audiovisual continuava a transmitir repetidamente imagens do ataque de 7 de outubro, entrevistas com sobreviventes e mensagens de apoio de figuras da comunidade judaica.
“Queremos educar os estudantes e todos os que por aqui passam, mostrar-lhes o que o Hamas faz e o que este campus apoia quando gritam ‘Intifada, intifada, revolução’ ou ‘Do rio ao mar'”, lema que se refere à área geográfica entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo, diz um dos organizadores do contraprotesto, que afirma não ter vínculos com a universidade e pede para manter o anonimato.
‘Não me sinto bem-vindo’
“Estou desgostoso, enojado. É incrível que aqueles que se dizem ativistas a favor dos direitos humanos cantem e façam proclamações de morte e destruição”, acrescenta Alex Jacobs, que se identifica como estudante da UCLA, mas prefere não dizer de que faculdade.
Ele usa óculos escuros, boné e máscara para evitar ser reconhecido, enquanto aponta para os campistas.
“Entendo a necessidade de se manifestar, de expressar opiniões, mas como estudante judeu e pró-Israel não me sinto mais bem-vindo nesta universidade onde sempre sonhei estudar”, diz Andrew Gerbs, estudante de Sociologia da UCLA, que chegou cedo para observar a situação e que, ao contrário de outros, está aberto a falar com os meios de comunicação e a deixar-se fotografar.
“Acho que posso falar por outros estudantes judeus. Isso nos gera ansiedade, nos distrai dos estudos, porque afinal isso é um centro de estudos”, enfatiza, embora reconheça que as aulas continuam sendo ministradas normalmente no campus, algo que a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, também conseguiu verificar.
“Venham, venham conhecer a verdade!”, grita uma mulher para vários estudantes que passam em frente à praça.
Mas já é meio-dia e os estudantes a ignoram e correm para outra parte do campus.
Lugar para ideias e debate
Acontece que para este horário, 12 horas, estavam previstas duas marchas simultâneas, convocadas pela Faculdade de Justiça na Palestina, que reúne professores e demais funcionários da universidade, e pelos Estudantes da UCLA pela Justiça na Palestina.
“Estamos com nossos alunos”, diz a faixa levada por professores simpatizantes do acampamento.
Ouvem-se palavras de ordem a favor da libertação da Palestina. Outros cantos citam diretamente o primeiro-ministro israelense: “Diga-nos, Netanyahu, quantas crianças matou hoje?”
São dezenas de pessoas e alguns usam suas insígnias acadêmicas enquanto marcham pela rua Plaza Portola.
“A universidade é um lugar de ideias, de debate, e defendemos o direito dos estudantes de expressá-las, seu direito de mobilização”, diz Ananya Roy, diretora fundadora do Instituto Luskin sobre Desigualdade e Democracia da UCLA e professora de Planejamento Urbano, Bem-estar Social e Geografia.
“Os estudantes protestam agora por Gaza como fizeram aqueles que protestaram pelo Vietnã”, acrescenta.
Ela reconhece as diferenças, mas traça um paralelo com os protestos estudantis que, no final da década de 1960, acabaram por tomar conta da cena política nacional e são lembrados mais e mais entre aqueles que comentam a situação atual nos campi.
“Onde vamos protestar se não aqui? Este é o lugar ideal para fazer isso”, diz um estudante que prefere não revelar seu nome, mas que atua como contato de imprensa para uma coalizão estudantil.
“O que pedimos é que a Universidade da Califórnia pare de investir fundos naqueles que lucram com o genocídio em Gaza. E vamos protestar até conseguir”, enfatiza ao lado da biblioteca Powell.
Enquanto isso, do outro lado da área do acampamento, pelos corredores do Royce Hall, centenas de estudantes marcham com a mesma reivindicação, alguns com keffias (lenços árabes) amarradas no pescoço ou cobrindo a cabeça, outros com camisetas pró-Palestina, muitos com máscaras.
“Antissionismo não é o mesmo que antissemitismo”, diz uma das faixas que levantam.
“A terra pela qual você mata não lhe pertence”, escreveram em outro pedaço de papelão.
“O poder do povo é mais forte do que o das pessoas no poder”, diz outro cartaz.
“Invista na educação, não na guerra”, clama mais um.
Não demora muito para perceberem que também há jornalistas entre os estudantes.
“Não fale com a imprensa”, diz um dos estudantes que coordena o protesto. “Não deixe que fotos sejam tiradas.”
Deixo-os avançar sob os arcos do corredor de onde se avistam as barracas de acampamento multicoloridas, refaço meu caminho e sigo para o outro lado do perímetro de segurança.
Lá, lembro-me da primeira conversa da manhã, com Sethi, o pai que tentava fazer com que seus filhos entendessem o mundo dividido em que vivemos.
“Digo a eles que são como dois times”, ele me disse.
“Mas aí, eles me perguntam: ‘E nós, em qual estamos?'”
Ao que Sethi respondeu: “Estamos entre aqueles que apoiam a paz.”
Tribuna Livre, com informações da BBC News